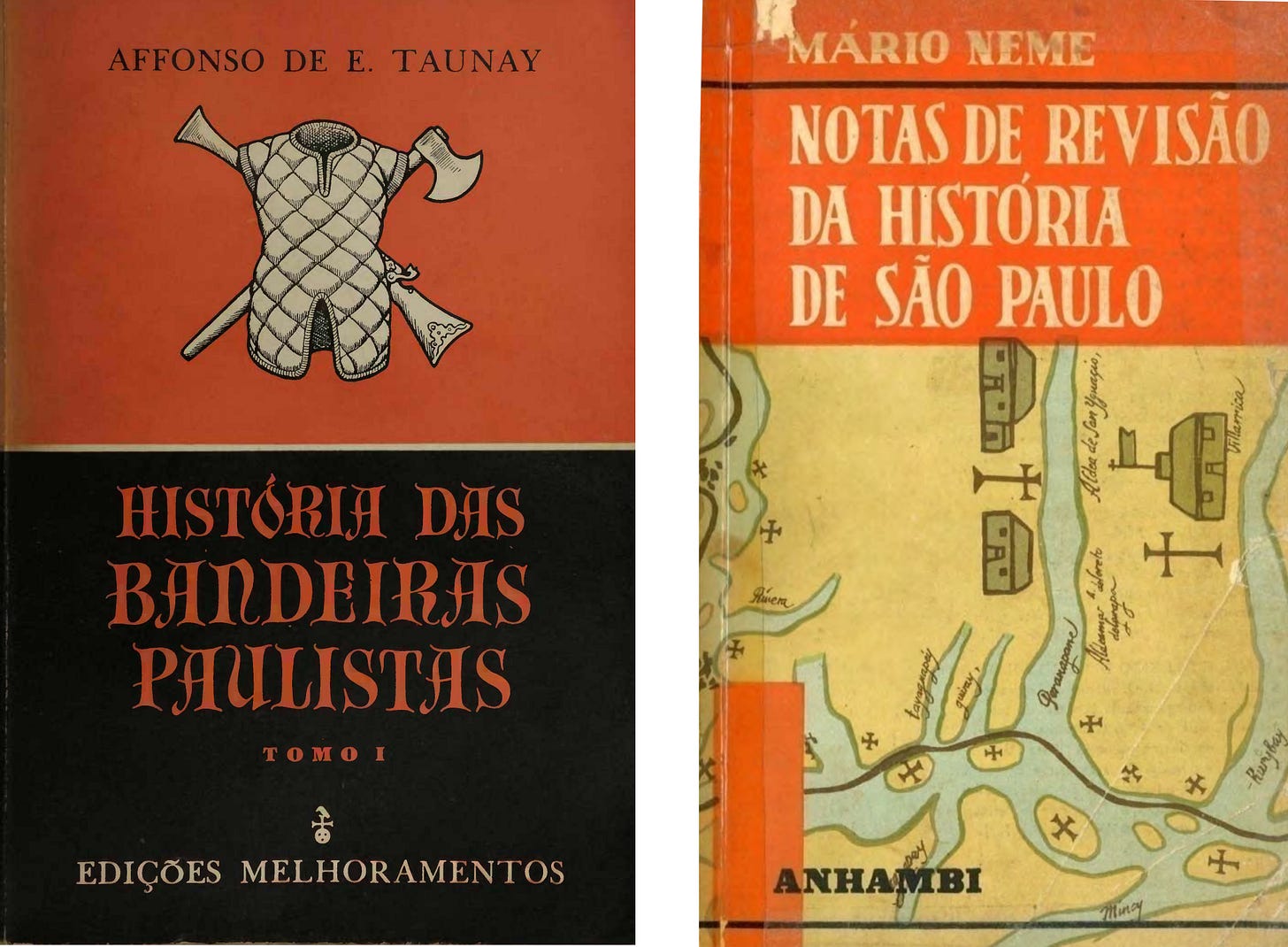Prosseguimos com a publicação do livro editado pelo IHGP (Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba) em 2023, de autoria de Fábio San Juan e Romualdo da Cruz Filho. A primeira postagem (01) está aqui, se não leu, clique e leia agora.
O livro é resultado da pesquisa apresentada pelos autores ao Sesc Piracicaba em 2022, que resultou em uma atividade de turismo cultural, “Por Onde Andaram os Modernistas em Piracicaba”, realizado no período de setembro a outubro de 2022.
As postagens serão feitas aos domingos e quarta-feiras, e são abertas a todos.
Para receber diretamente na sua caixa de e-mails textos como este, de forma exclusiva, assine o Viletim por apenas R$8,00 / mês. Jornalismo independente, análises, opinião, cultura e bom-humor. Do interior paulista para o mundo.
Primeira aproximação
Poderíamos supor em um primeiro momento que os modernistas se sentiram atraídos pela versatilidade cultural dos piracicabanos, que se mantinham em evidência com uma agenda de eventos intensa e diversificada, à mostra nos pontos culturais da cidade ou em turnês pela capital e interior do estado de São Paulo, produzindo uma vida cultural movimentada e pulsante, resultado de uma economia ascendente, de base agroindustrial. Como os modernistas tinham o propósito de desenvolver linguagens inovadoras, talvez possam ter vindo à Piracicaba para conferir se algo novo brotava nas salas de concertos da cidade, nos teatros, nos espaços públicos de debates, nas exposições artísticas, nos centros acadêmicos.
Até que ponto Piracicaba possa ter tido pontos de contato com o interesse dos modernistas no quesito “inovação de linguagens artísticas”, é algo que será esclarecido ao longo deste trabalho.
Vista do Largo da Catedral de Piracicaba, atual praça José Bonifácio, do final dos anos 1940 ou início dos anos 1950. A foto foi tirada da torre da catedral, ainda em construção. Observamos a praça circundada pelas ruas Moraes Barros - de frente à igreja -, e São José - de frente para o teatro Santo Estevão. Observa-se o teatro, que hoje não mais existe, e ao lado direito o Clube do Coronel Barbosa, chamado na época de Clube Piracicabano, além do teatro São José. Acervo da Câmara Municipal de Vereadores de Piracicaba.
Quando comparamos a essência do modernismo nas artes e o movimento cultural piracicabano de 1900 a 1950, notamos diferenças marcantes. Embora a visão liberal republicana, materializada pelo Partido Republicano Paulista (PRP), propusesse a construção de uma identidade nacional, tema que estava no topo da lista dos modernistas de 1922, também tinha como pontos de sua plataforma o desenvolvimento social e econômico, a consolidação de regras claras para uma constituição sólida e funcional. Vencida a monarquia, com a derrubada de D. Pedro II e o estabelecimento da República, o questionamento de valores sociais e culturais passou ao largo das preocupações perrepistas. Pelo contrário: foi no mesmo momento, entre a articulação (1917) e a realização da Semana de Arte Moderna em São Paulo (1922), que os paulistas se voltam à construção de um passado em que as tradições bandeirantes, típicas de uma cultura que pudesse ser identificada como singular, eram pedras angulares da construção da terra brasileira (vide a obra de Afonso E. de Taunay, nomeado diretor do Museu Paulista justamente em 1917, para adequá-lo aos festejos do centenário da Independência do Brasil, não por coincidência, em 1922; é a obra historiográfica de Taunay que lança os alicerces da construção do “passado glorioso dos paulistas” que será seguido por uma multidão de pesquisadores e autores até a década de 1950). Aqui portanto pode-se notar que a identidade nacional vista pelos piracicabanos (fundamentais nesse esforço de construção da História Paulista, como Mário Neme, também não por acaso, diretor do Museu Paulista a partir de 1945) e a vista pelos modernistas, críticos desde o início deste “passado glorioso” (vide o poema-piada de Oswald de Andrade “Erro de Português”) tinham pontos de partida diferentes, ao menos em um primeiro momento (de 1922 a 1930, mais ou menos).
Capas dos livros "História das Bandeiras Paulistas", de Afonso E. de Taunay (esq.) e "Notas de Revisão da História de São Paulo", de Mário Neme (dir.). Ambos foram diretores do Museu Paulista da USP, em diferentes períodos.
Em outros quesitos, como a educação pública, Piracicaba estava no centro do debate, sendo vista como modelo, como o “Ateneu Paulista” (apelido que significa “cidade com muitas escolas”), uma referência para o país, mas sob parâmetros de ordem positivista, com fortes influências iluministas, americana e europeia, na contramão do que pensavam os modernistas. Para a turma de Mário e Oswald de Andrade (até onde possa se distinguir neles um pensamento educacional), o “destruir para depois construir” e a retomada das raízes culturais, prioritariamente pelo caminho da cultura popular (e bem depois, das culturas de matrizes indígenas e africanas) eram o pensamento dominante, digamos, de suas práticas pedagógicas:
… se alastrou pelo Brasil o espírito destruidor do movimento modernista. Isto é, o seu sentido verdadeiramente específico. Porque, embora lançando inúmeros processos e ideias novas, o movimento modernista foi essencialmente destruidor…” (ANDRADE, 1978).
Tudo, é claro, tendo a desconstrução da cultura tradicional pelas vanguardas artísticas europeias como norte orientador dessas práticas. Essa desconstrução, que em essência era destrutiva, como afirma o próprio Mário de Andrade, levou não só os modernistas, mas todo o mundo civilizado, a radicalismos na década de 1930, como o comunismo stalinista (vide a adesão de Oswald de Andrade ao Partido Comunista Brasileiro em 1931) e ao fascismo (configurado na fundação do Movimento Integralista em 1934 por Plínio Salgado, um integrante de primeira hora do modernismo, que aderiu ao fascismo via movimento futurista italiano).
O alto senso crítico dos intelectuais piracicabanos, no entanto, não se deixava levar pelas ideologias predominantes entre os líderes do movimento de 22. A elite cultural da cidade estava de fato empenhada em seus afazeres de dar forma a uma visão de mundo, mas sem enquadramentos estéticos revolucionários. Vislumbrava sim assistir bons concertos, gostava de discutir literatura, arte e cultura. Criou espaços públicos específicos para esta finalidade, como a Universidade Popular e a Sociedade de Cultura Artística. Artistas plásticos como os irmãos Dutra, Alípio e Antônio de Pádua eram cosmopolitas, cultos e viajados, vivendo entre o interior e a capital paulista, o Rio de Janeiro e Paris. Frei Paulo de Sorocaba, apesar de religioso capuchinho franciscano, abriu seu ateliê artístico para ensinar pintura, escultura e outras técnicas artísticas às crianças e adolescentes da cidade, proporcionando um ambiente no qual se percebe a orientação ao ler seu nome: “Atelier Livre”. Os centros educacionais apoiavam-se em métodos rigorosos, científicos, por isso a cidade era um celeiro de professores para o país. No plano da tradição popular, fazia questão de manter forte relação com sua gênese caipira, que culminou com a autoidentificação local como “caipiracicabana” por Tales Castanho de Andrade, adotada plenamente como signo de identidade a partir da década de 1950 por João Chiarini e por Cecílio Elias Netto na década de 1980.
Esse olhar equilibrado, que provavelmente os modernistas chamariam de burguês ou provinciano, foi o mesmo que chegou à redação do jornal “Estado de São Paulo”, onde um grupo de piracicabanos ditavam a linha editorial, nem sempre com opiniões que agradavam aos modernistas, por conta de seu viés lobatiano. Vale lembrar que embora Monteiro Lobato fosse um advogado ardoroso da modernidade econômica do Brasil, colocando em prática suas ideias como empresário nas indústrias editorial e petrolífera, contrapunha-se fortemente ao Modernismo nas artes; é só lembrarmos de seu artigo contra a exposição de Anita Malfatti em 1917. Sua posição conhecida contra as vanguardas, destilado como veneno contra uma pessoa específica, mulher e artista, acabou por gerar reação violenta na polêmica na mídia da época e por deflagrar o próprio movimento modernista.
Um caso bem específico, que ilustra a oposição de visões de mundo entre os piracicabanos do “Estadão” e os jovens modernistas: Léo Vaz contrapôs-se a Oswald de Andrade e o líder do movimento reagiu com certa agressividade: “Apenas vocês que fazem uma guerra infernal à ‘arte moderna’, aproveitando-se de tudo para darem um grande ar de entendidos, jogando para cima de nós o rótulo de improvisadores e palpiteiros” (ANDRADE, 1971). Léo Vaz tinha sido um assíduo frequentador da garçonnière (apartamento utilizado somente para reuniões sociais) de Oswald entre 1917 e 1918, tendo o primeiro o ajudado financeiramente o piracicabano, quando estivera desempregado. Mas na época da resposta agressiva de Oswald a Vaz, no lançamento do romance Marco Zero, em 1943, a harmonia entre ambos já havia passado há muito tempo.
Essa era uma das notas no tom empregado pelo “Grupo de Piracicaba”, assim chamado por Monteiro Lobato (e por José Maria Ferreira de “Bloomsbury Caipira”, uma analogia com o grupo de escritores ingleses do mesmo período, o “Grupo de Bloomsbury”). Um grupo de intelectuais nem todos nascidos em Piracicaba, mas todos formados na Escola Normal da cidade, e que “invadiram” as redações de jornais e revistas da capital paulista na primeira metade do século XX. Poucos livros dessa geração tornaram-se referências (um deles foi “Saudade”, de Tales Castanho de Andrade, segundo Monteiro Lobato, texto que o inspirou na construção da saga do Sítio do Picapau Amarelo), mas muita coisa foi produzida, especialmente na imprensa. Léo Vaz, Sud Mennucci, Lourenço Filho, Marcelino Ritter, Brenno Ferraz, Mário Neme e muitos outros, trabalharam em publicações como a prestigiosa “Revista do Brasil”, de Monteiro Lobato, os jornais “O Estado de São Paulo”, “Diário da Noite”, “Folha da Manhã” etc. Mário Neme é um dos intelectuais que aprofundaram o estudo da história piracicabana, paulistana e paulista, tendo posteriormente atuado como diretor do Museu do Ipiranga. Lourenço Filho fez parte do movimento educacional da Escola Nova. Sud Mennucci foi Secretário Estadual de Educação e defensor do movimento das Escolas Rurais. Além de muitos outros, piracicabanos ou não, formados pela Escola Normal que foram figuras-chave na imprensa e intelectualidade da Pauliceia desvairada.
Dentro das possibilidades de um trabalho breve, faremos a conexão do ambiente cultural piracicabano e o modernismo brasileiro, principalmente paulistano. Assim, tentamos compreender em que e como de fato os modernistas dialogaram com os piracicabanos e em que medida se somaram, e se houve algum processo de colaboração entre os grupos.
Com esta abordagem acreditamos contribuir para que o leitor tenha um discernimento maior do que é tradição e do que é inovação no século XX em Piracicaba, bem como em que medida essas questões, em determinados momentos, estavam tão afinadas com os propósitos modernistas que pareciam até engrossar o movimento paulistano. Mas na realidade eram coisas distintas. Nem por isso, excludentes. Trata-se de um exercício delicado, que busca a autonomia do movimento cultural de Piracicaba, com características modernas, e até modernistas.
Continua no próximo domingo, dia 08/12/24.